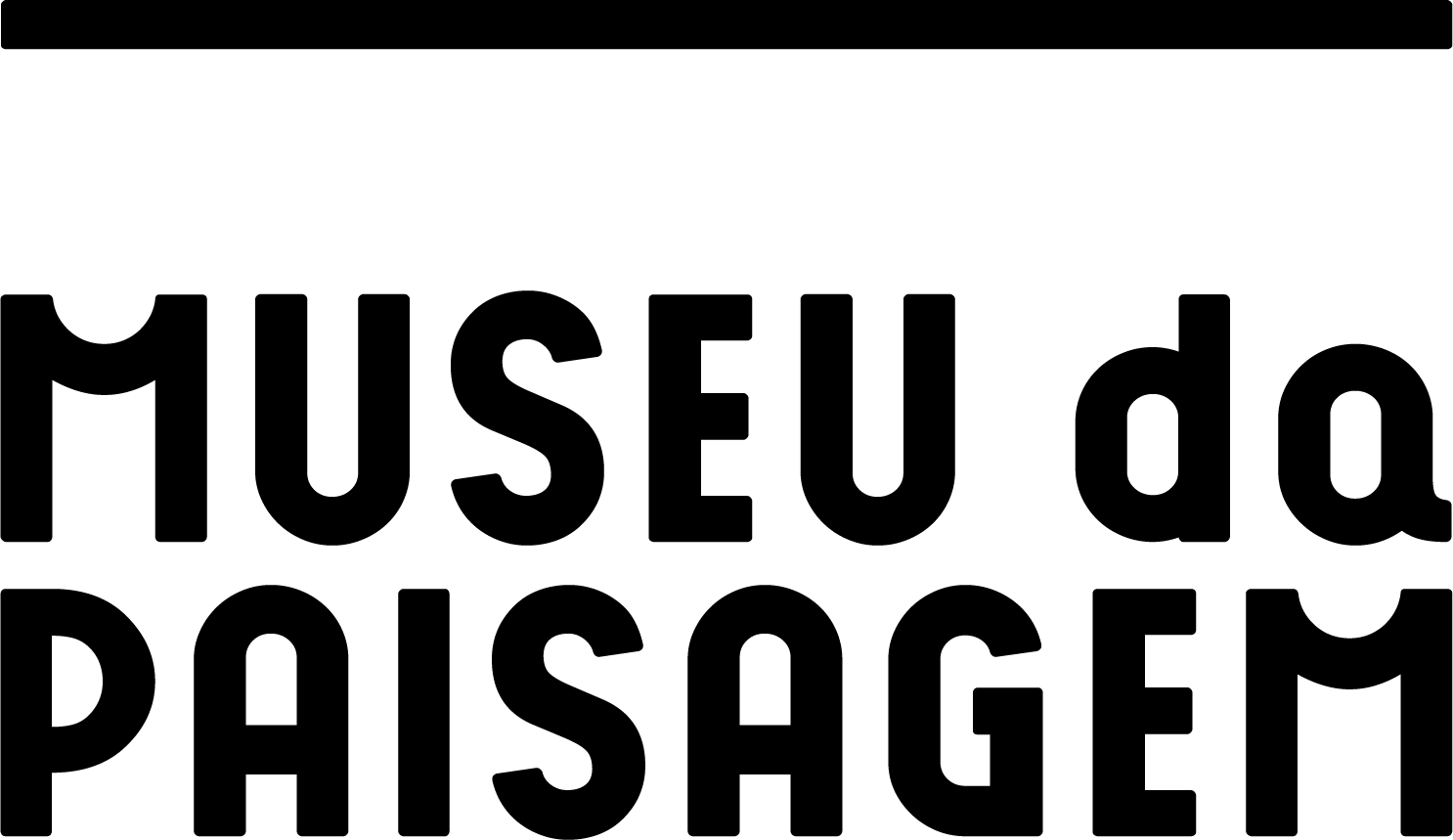Amieira do Tejo
Escolha
“Se não fosse o arroz doce, ia abrir-vos a capela. Mas talvez uma vizinha possa ir convosco.” Foi por causa do arroz doce que a D. Gracinda ia pôr ao lume, que ficámos a saber que a Amieira do Tejo estava em vésperas de festejar o Santo António.
D. Lucinda, cicerone improvisada, assume o desígnio com a chave de ferro velha bem firme na mão. Subimos a ladeira ao ritmo do seu passo lento, mas aplicado, enquanto nos vai pedindo: “Eu confio nos senhores e os senhores confiam em mim”, recordando assim qual o melhor chão para a Humanidade evoluir.
Chegados à capela do Senhor do Calvário, uma bela construção barroca setecentista, alcançamos desafogadamente a vila e os montes em redor. Não se vê o Tejo, padrinho ancestral da Amieira, porém sabemo-lo ali no vale.
No centro da vila, entre as casas, destacam-se as duas torres do castelo medieval, mandado construir pelo pai do futuro Condestável, D. Nuno Álvares Pereira.
Não estarão estas duas construções invertidas? Não deveria estar a capela no centro da vila junto dos fiéis e o castelo, no ponto mais alto, de atalaia? Uma breve pesquisa esclarece que o castelo foi também construído com fins residenciais. Servirá de explicação? E quanto à capela? Será que as igrejas dedicadas ao Senhor dos Passos são erguidas nos cumes, para que os crentes repliquem simbolicamente a dureza do calvário de Cristo?
A escolha de um local para construir o que quer que seja contém em si mesma uma narrativa do lugar. De como o espaço foi idealizado e que significado continha ou se pretendia atribuir. Em Vila Flor, aldeia vizinha quase deserta, encontra-se um bom exemplo do lugar e os seus símbolos. Mesmo já só morando aqui três famílias, a inexistência de uma capela levou a um enorme esforço coletivo para se reunir o dinheiro para a construção de uma nova igreja. Porque a uma aldeia sem santuário falta a alma coletiva, um espaço que lhe dê um sentido maior.
Decidiu-se construir a nova capela no meio das ruínas da antiga igreja, no largo, o que diz muito sobre a importância que assumem os locais simbólicos e a vontade de prolongar a sua história. Até na escolha da arquitetura da nova capela, um cubo de linhas retas e depuradas, podemos adivinhar essa vontade de futuro, de resistência.
Regressámos à Amieira para uma última despedida. Só foi pena não podermos ter acedido ao convite para ficar para a festa e provar o arroz doce.
Lá vai a barca
Na década de 50 do século passado, ainda sem uma rede de transportes rodoviários montada e sem que o automóvel fizesse sequer parte do imaginário coletivo, o comboio era o rei do transporte. Quis o azar que a linha da Beira Baixa bordejasse o rio na margem oposta, onde também se encontrava a estação. Na altura ainda com direito a bilheteira, tal era o movimento.
Quis o azar também que não houvesse sido construída nenhuma ponte, nem constassem planos para tal.
Quem precisasse de chegar à margem norte do Tejo, fosse para pastar gado, para trabalhar à jorna ou para apanhar o comboio, recorria à barca da Amieira, como ficou conhecida, que transportava pessoas, mercado - rias e animais — desde burros carregados e rebanhos a juntas de bois para cultivar a terra na outra margem. Tudo indica que se tratava de uma embarcação de largas dimensões (consta que chegou a transportar camionetas), operada com uma vara de muitos metros, com a qual os barqueiros impulsionavam a embarcação de uma margem para a outra. Para controlar o seu curso durante a travessia e depois para a atracar aos muros construídos com esse objetivo, usavam uma sirga — um cabo feito de sisal.
Descendo da Amieira até ao Tejo, ainda hoje se podem observar estes muros de sirga.
Como muitos dos passageiros chegavam à estação de barca, esta acabou por dar o nome original à estação: Estação da Barca da Amieira.
Nos anos 70, com o crescente uso do transporte rodoviário, a barca terminou o seu propósito, mas durante algum tempo ainda se usaram botes para transportar pessoas entre as margens do rio.